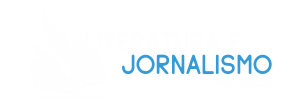Primo Levi e o relato da desumanização
Sem sombra de dúvidas, o maior trauma do século XX, para a humanidade, foi o Holocausto. Em tempos de ascensão da extrema-direita pelo mundo, muitas delas flertando com o nazismo, um livro se impõe como leitura para todos que pretendem lutar contra essa situação e, em camadas mais profundas, esse perigo.
Ele é “É isso um homem?”, publicado pelo sobrevivente judeu Primo Levi em 1958, aqui editado pela Rocco, com tradução de Luigi Del Re. Além das aspirações totalitárias de vários regimes atuais, é fundamental para não confundir as políticas do Estado de Israel para com a população Palestina com o próprio povo judeu, o que jogaria água no moinho de muitos antissemitas ainda escondidos no meio de extremistas de direita.
Primo Levi, nascido e estabelecido em Turim à época da guerra, era químico e tinha uma vida regular, tido por estudante promissor por docentes antifascistas como o consagrado sociólogo Norberto Bobbio. Quando vieram as leis fascistas de segregação contra os judeus, teve dificuldades de encontrar orientadores para sua monografia de conclusão de curso, mas conseguiu se formar, embora em seu diploma já constasse o carimbo de “raça judia”, o que tirou dele quaisquer possibilidades de exercer a profissão.
Sendo assim, mais ao fim da guerra, Levi alistou-se entre os Partizan, guerrilheiros que misturavam italianos e homens e mulheres dos balcãs para enfrentar o nazismo que ainda dominava o norte da Itália, quando Mussolini já estava executado pelas forças revolucionárias apoiadas pelos aliados, inclusive pela Força Expedicionária Brasileira (FEB).
O que poderia ser um ato de valentia também pode ser interpretado como seu erro. Num grupo de baixo treinamento, foi capturado por milícias fascistas remanescentes, que o enviaram para os nazistas e ele foi deportado para Auschwitz, o tenebroso campo de concentração e extermínio em que morreram alguns milhões dos 6 milhões de judeus assassinados ao longo da vigência do regime nazista.
Os detalhes do campo

O que fez de Primo Levi um sobrevivente foi um misto de sorte e lucidez. Sorte porque, chegado a Auschwitz em 1943 para 1944, precisou sobreviver um ano e pouco entre os carrascos alemães, ao contrário de vários de seus pares, que já vinham da perseguição interna na Alemanha, depois os guetos em territórios marginais do Terceiro Reich, em seguida campos menores de trabalho e, depois, os principais campos de extermínio, Auschwitz e Treblinka.
Levi tinha mais integridade física que os demais e, por ser um homem de formação intelectual, teve força mental para registrar todos os ocorridos mentalmente, mantendo-se alerta e ativo, ao lado de companheiros já entregues à desumanização.
A palavra era essa: desumanização. Os judeus, quando chegavam aos campos, deixavam de ter seus nomes e recebiam números. Eram separados de suas famílias e, o máximo possível, de seus contatos pessoais. Impunha-se uma rotina que não permitia a troca de informações e experiências. Em suma, não sabiam uns quem eram os outros, seus nomes, nada. E, nessa rotina, eles mesmos passaram a não ver uns aos outros como humanos.
Esse é o aspecto mais polêmico, porém único, de “É isso um homem?”. A compreensão do título vem ao longo da obra, em que são narradas as formas como os trabalhos ocorriam de forma extenuante, o silêncio imperava nos alojamentos de descanso – “descanso”, já que eram três a quatro horas de sono – os alimentos eram sopas sem sabor e o dia a dia de trabalho era a fabricação de armamentos para a guerra, geralmente sob o som ensurdecedor das máquinas.
Os judeus não existiam uns para os outros, o que tinha consequências inimagináveis.
Luta desleal por sobrevivência

Normalmente, nenhum deles eram pessoas ricas ou altamente intelectualizadas, como o estereótipo faz a muitos crer sobre os judeus. Historicamente ligados a profissões liberais, alguns lograram sucesso como intelectuais ou como empresários, deixando muitas conquistas para a economia e o pensamento humano. Porém, a maioria eram pequenos artífices, sapateiros, donos de pequenos comércios, ou artistas sem renome como pianistas de pequenas rádios, pintores de quadros para turismo etc. A maioria, sem a formação intelectual e ideológica sólida de Levi, perecia ante tanta privação e tentava apenas sobreviver.
Sendo assim, a rotina fora das caldeiras era ainda mais assustadora que dentro, com alguns se aliando aos carrascos para ganhar tempo de vida, exercendo serviços cruéis como participar na queima e enterro em vala comum dos corpos mortos em câmaras de gás. Outros esperavam um companheiro morrer para pegar seu beliche, tido por melhor. Havia ainda os que queriam suas parcas posses, como um melhor uniforme.
Levi tudo isso testemunhou, tendo escrito isso depois, isentando de culpa, corretamente, quaisquer de seus companheiros. Os nazistas eram os culpados, pois o processo de desumanização era tal que, evidentemente, o aspecto humano dos detentos estava perdido. A pergunta, sobre se isso é ou não um homem, título do livro, é respondida durante o processo de leitura, sendo desnecessária sua menção em toda a história. A desumanização parecia não ter chegado a Levi, que foi libertado pelos soviéticos, passou pelo pós-guerra e publicou seus livros.
Este além de “A trégua”, publicado no mesmo ano e editado no Brasil pela Companhia das Letras, em tradução de Marco Lucchesi. Neste último, Levi narra o seu retorno, em estado de abandono, desde Auschwitz até sua casa na Itália, ignorado pelos soldados, que os libertaram mais num movimento de guerra que num ato de humanidade. Perdido em meio à inexistência de instituições e ainda afetado pela discriminação do antissemitismo que não desapareceria de um dia para o outro.
Mostra, inclusive, como muitos judeus ainda morreram em liberdade, incapazes de se locomoverem, de se abrigarem do frio ou mesmo de se alimentarem, no estágio de fragilidade em que estavam após saírem do campo de extermínio.
Por que ler?
Nem mesmo Levi ficou livre dos traumas de Auschwitz. Embora tenha exercido sua profissão de químico e publicado obras científicas relevantes, além das literárias, morreu em 1987, suicidando-se ao se jogar do alto do prédio em que vivia. À época, seu companheiro de sobrevivência Elie Wiesel declarou que “ele morreu há quarenta anos”, demonstrando como os traumas jamais o deixaram.
Em tempos em que fala-se qualquer coisa e tudo se torna opinião, existe aí um perigo: a janela de Overton. A teoria, criada pelo norte-americano Joseph P. Overton, dá conta de que sempre existe uma gama de opiniões legítimas, em que seus extremos são malvistos, e o que está fora é inaceitável. Essa janela é móvel na medida em que o extremo vem para o meio, deixa de ser malvisto para ser cotidiano, e vem para o lugar do malvisto algo que estava fora.

Quando o extremismo de direita se acentra na sociedade, o que está fora vai trazer elementos como ditadura, tortura, extermínio de indesejáveis e, nos seus estertores, o nazismo. Assim como o que é centro atualmente, a democracia ocidental no Ocidente, pode se tornar uma excentricidade indesejável ou, nos estertores, algo digno de perseguição.
Estamos num período em que vemos essa janela se mexer para a extrema-direita, com líderes indesejáveis se instalando pelo mundo. Ler a obra de Primo Levi pode dar limite ao movimento dessa janela, retornando-a aos padrões de dez, vinte anos atrás, quando pensávamos ter vencido quaisquer formas de autoritarismo ocidental.